
Autora de um dos melhores discos do ano, ‘2.0.2.1’, e se preparando para lançar a mixtape ‘La Janta’, rapper paulistana opera sua trans-binaridade como arma antirracista e questiona a dicotomia entre periferia versus centro
“Acordei da pá virada. Quase desisti de vir hoje”. Foi com essa saudação capaz de causar calafrios em qualquer jornalista prestes a entrevistar uma fonte que Monna Brutal nos cumprimentou no dia desta entrevista, quando chegou à Casa Natura Musical, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Era uma tarde de quarta-feira, pós-feriado de Nossa Senhora Aparecida, e Monna estava atrasada e nervosa, mas tinha uma razão: o carro de aplicativo que a trouxe sozinha de sua casa, no bairro do Jova Rural, quase fronteira com Guarulhos, a mais de 20 km do prédio da Casa, quebrou no meio do caminho. “A primeira coisa que pensei foi: ‘Peguei um motorista transfóbico filho de p***. É agora que eu morro’”. Felizmente, não aconteceu nada com ela, mas seu medo não é à toa e vem justificado por dados: o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Segundo relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), foram 175 assassinatos causados por transfobia em 2020. No primeiro semestre de 2021, já foram contabilizados 80 casos.
A história de Monna se assemelha à de milhares de travestis e transexuais brasileiras nascidas em periferias ou no interior do país. Na adolescência, deixa a casa da família e migra para o centro de São Paulo, para tentar entender melhor os processos pelos quais seu corpo vinha passando. Seu contato com o hip-hop, no entanto, começa a acontecer alguns anos antes do êxodo periférico provocado pela sua não-adequação de gênero. Criada em berço evangélico, aprendeu a cantar na igreja, onde foi introduzida à música gospel. Antes de se firmar no rap, passou pelo forró, pelo funk e pelo repente, geralmente embalado por pandeiros. Se tornar MC foi um “acaso”, segundo ela. Aos 10 anos, começa a participar de oficinas ministradas por coletivos locais que apresentavam a crianças e adolescentes do bairro os fundamentos do movimento hip-hop. “Me sentia muito privilegiada de ter conhecido o hip-hop e ver e viver o trabalho efetivo dele na favela. Foi algo que me encantou muito: o rap como uma ferramenta no qual eu poderia conquistar o meu espaço de fala — grande ilusão, né? ”

A “grande ilusão” a qual Monna se refere se deu quando ela começa a frequentar uma das batalhas de rima mais famosas de São Paulo, a Batalha do Santa Cruz, conhecida por ter iniciado e revelado na cena do rap nacional alguns dos principais MCs que conhecemos hoje, como Emicida, Rashid, Projota, Bivolt e Drik Barbosa. No Santa, se sentiu discriminada e teve que lidar com alguns ‘machos escrotos’ por causa da sua feminilidade.
“Foi um contraste muito louco na minha mente, porque, pra mim, o hip-hop era o lugar de me expressar, só que ali eu não me senti bem-vinda”, desabafa. Pensou em parar de rimar, mas desistiu quando ouviu que rap era ‘coisa de macho’. “Me deu gás para continuar. Eu amo reivindicar para mim tudo aquilo que é considerado ‘coisa de macho’, só de birra, de pirraça. Pra mostrar que vai ter gente como eu fazendo ‘coisa de macho’ sim”.
Monna Brutal tem 24 anos e, até os 16, vivia na periferia. Deixou o Jova Rural quando a convivência com os pais adotivos, que não respeitavam sua identidade de gênero, ficou insustentável. Foi para o centro, onde passou a morar em uma ocupação da Frente de Luta por Moradia (FLM) e a ter mais acesso a discussões sobre consciência de classe, gênero, raça e sobre sua transexualidade — questão que não era debatida no seu bairro. “Vim para o centro para conseguir entender mais sobre mim e ‘traficar’ informação para a minha quebrada”, explica.

O deslumbramento com o centro, no entanto, não demorou a se transformar em desilusão. Se na periferia, Monna tinha acesso precário à habitação e alimentação, no centro, ela passou fome e ficou sem casa. Para além das precariedades materiais, migrar para a região central também significou ter sua humanidade negada. Foi vítima de racismo, preconceito de classe e LGBTfobia. Não que nunca tivesse sofrido preconceito na quebrada antes por conta da sua feminilidade — especialmente quando era uma criança afeminada num corpo masculino “de nascença”. Mas conforme foi envelhecendo, conquistou o respeito e acolhimento dos seus vizinhos. “No centro, o acesso à essa informação ‘progressista’ me dava uma impressão de pertencimento e fortalecimento, mas era ilusão”, pondera. “A galera do centro precisa criar inúmeros caminhos teóricos para tentar colocar em prática conceitos como ‘coletividade’, ‘empatia’ e ‘sororidade’, que acontecem muito naturalmente lá no Jova Rural.”.
“O centro da cidade é um território demarcado por brancos onde existe, para as pessoas pretas e não-brancas periféricas, um caminho bem projetado para morrermos, dando o mínimo de incômodo possível à branquitude instalada nos arranhas-céus”.
Monna Brutal
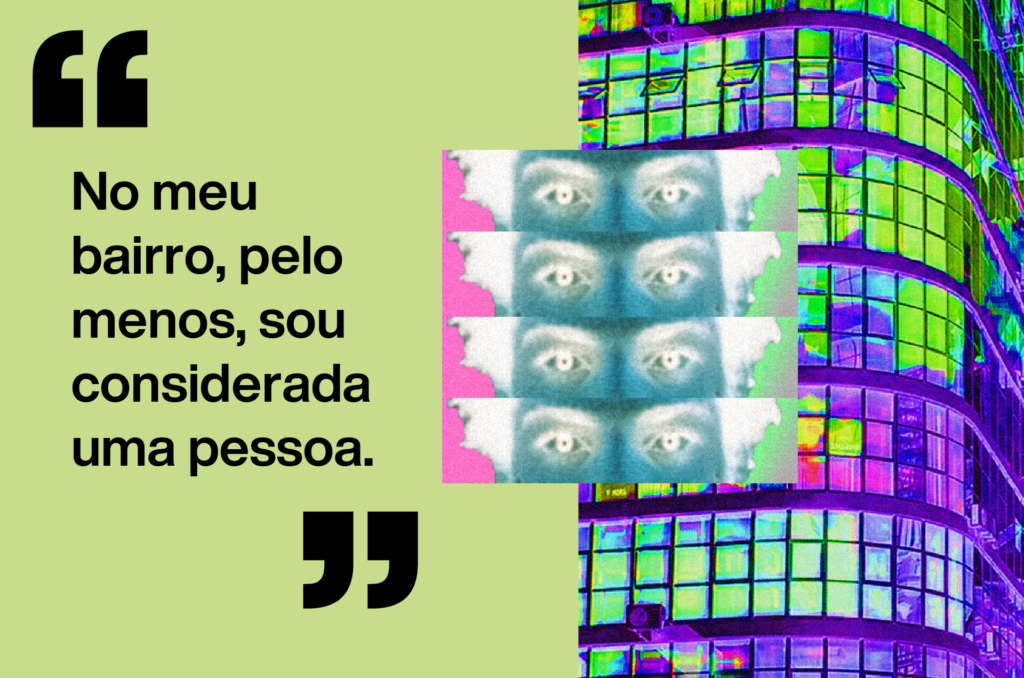
Em idas e vindas entre centro e periferia, Monna Brutal lançou seu primeiro disco, 9/11, em 2018, quando apresentou suas rimas afiadas e sem papas na língua para um público além do das batalhas de rap. Apesar da inegável qualidade lírica, a versatilidade do seu flow — que funciona tanto no modo speed flow, quanto no modo cantado— e da proposta de produção que mistura referências de boom bap, dancehall e house, o disco não furou as barreiras do underground do rap nacional, o que ocasionou em poucos contratos para shows, cachês baixos e, em consequência, problemas financeiros.
Em meados de 2019, ela dá uma pausa na carreira artística e se muda para São Tomé das Letras (MG) , mas temporariamente. No começo de 2020, com o planeta paralisado devido à pandemia da COVID-19, Brutal se viu de volta permanentemente ao bairro onde cresceu. Alugou uma casa, montou um estúdio num dos quartos e chamou o produtor e beatmaker FREELEX para acompanhá-la no período de quarentena coletiva. Juntos, produziram o lado A de 2.0.2.1, o segundo disco de Monna e um dos trabalhos mais inventivos e sinceros do rap nacional do ano até o momento.
Lançado logo em janeiro, o segundo disco de Monna traz a rapper em sua melhor forma lírica, conceitual e musicalmente. Primeira parte de um álbum duplo, 2.0.2.1 equilibra momentos de contemplação com os de punchlines com requinte, em cima de bases de reggae, dancehall, boom bap, trap, vogue beat e até uma faixa acústica.
Esse contraste fica explícito logo na sequência das duas primeiras faixas do disco, “Poder ao Povo Preto”, — que é precedida por “Faixa Zero”, uma intro que declama a tracklist inteira do trabalho–, e “F.I.G.H.T.”: a primeira é um salve ao povo preto dado por meio de um reggae que se constrói em versos mântricos e pacíficos; a segunda é o oposto: num beat que bebe em referências de música eletrônica de pista, ela chama para a briga “rappers que se escoram em seus pais”.
Se em “Neurose”, um dos pontos altos do álbum, a rapper recorre ao bom e velho boom bap para desenhar linhas combativas carregadas de raiva e desejo de revolta num flow acelerado, logo em seguida, ela se contrapõe através da melodia leve e inebriante de “Balanço Cósmico”, que, à primeira ouvida, parece uma love song, no entanto, se trata de uma canção escrita para ela mesma. “É como se fosse uma carta suicida, escrita num momento muito vulnerável. Eu queria partir daqui, aí fiz essa música com muito carinho para mim mesma, para ouvir quando estivesse mal”.
“2.0.2.1 é um álbum muito pessoal, que materializa muitos sentimentos, neuroses e outras ‘fitas’ que estavam presas dentro de mim.”
Monna Brutal
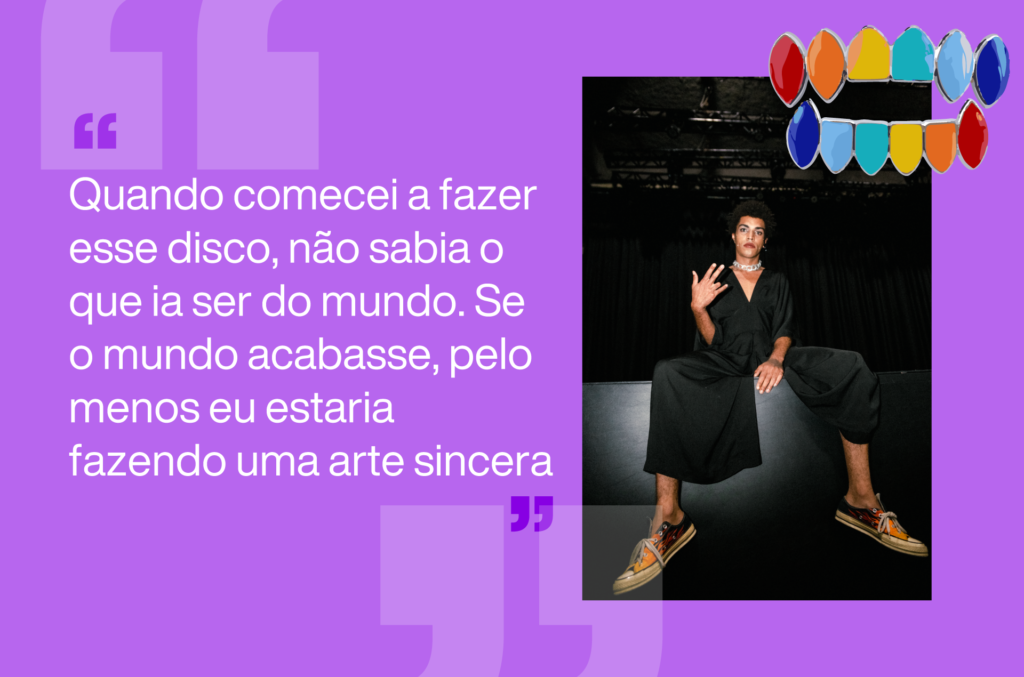
Masterizado numa caixa de som JBL vermelha pequena, o disco foi gravado com pouquíssimo recurso financeiro e produzido em um computador doado pelo músico Curumin, via redes sociais. “Eu não vou ficar esperando ser aprovada em algum edital da vida para fazer a minha arte acontecer”.
Além dos discos autorais, Monna também vem se destacando na cena por suas feats em faixas de outros artistas, como na ótima “Dollar Euro”, um dos carros-chefes de Próspera, disco de 2019 da Tássia Reis; em “Maserati”, faixa do EP Fúria Pt. 1 (2021), da Urias, que também conta com participação da Ebony; e “MAGENTA CA$H”, do EP Alegoria (2019), da Glória Groove. Com mais de 200 mil visualizações, suas participações em projetos como o Perfil da Pineapple Storm TV, quando gravou “Bixa Papão Pt. 2”, e no Brasil Grime Show também são ótimas amostras do potencial lírico e técnico da Demônia das Linhas — um dos merecidos vulgos da rapper.
Para 2022, Monna promete lançar um novo disco. A ideia inicial seria uma espécie “lado B” de 2.0.2.1, com faixas mais comerciais, puxadas para o trap e para o drill e com vários feats — o “lado A” não tem participações –, mas o trabalho ainda está em desenvolvimento e sem previsão de lançamento. Entre os dois discos, no entanto, a rapper vai lançar a mixtape La Janta. Com cinco músicas, a mixtape deve sair no dia 26 de novembro desse ano. “Com esses dois trabalhos, eu quero vender jobs. Falar a língua do mercado para garantir o pão do Carnaval”.
Nas suas andanças pelo centro, Monna entrou em contato com conceitos de não-binaridade de gênero — ou seja, quando uma pessoa não se enquadra completamente nem no gênero feminino, nem no masculino — e se descobriu uma mulher trans não-binária. Por meio do que nomeou como griots — indivíduos que preservam e transmitem conhecimento de maneira oral –, chegou à conclusão que seria impossível para ela, uma mulher negra, brasileira e periférica, exercer a feminilidade ou a masculinidade por completo.
“Vejo esse exercício como um privilégio branco e ocidental, porque basta você ser uma pessoa não-branca para ter a sua feminilidade ou masculinidade flagelada”, defende. “E esse processo acontece desde a época da colonização, quando os europeus chegaram nas colônias e demonizaram as pessoas de pele preta e vermelha, tirando delas o direito à feminilidade ou à masculinidade. Minha trans-binaridade vem como um entendimento de que não há nada que eu possa fazer com o meu corpo para ser lida como uma mulher branca ou um homem branco”.
“Por ser trans-feminina, as pessoas esperam que você se arrume mais, seja mais feminina. Eu não tenho grana para essas coisas. Tenho muitos problemas reais e ser bonita está em último na minha lista de prioridades”.
Monna Brutal
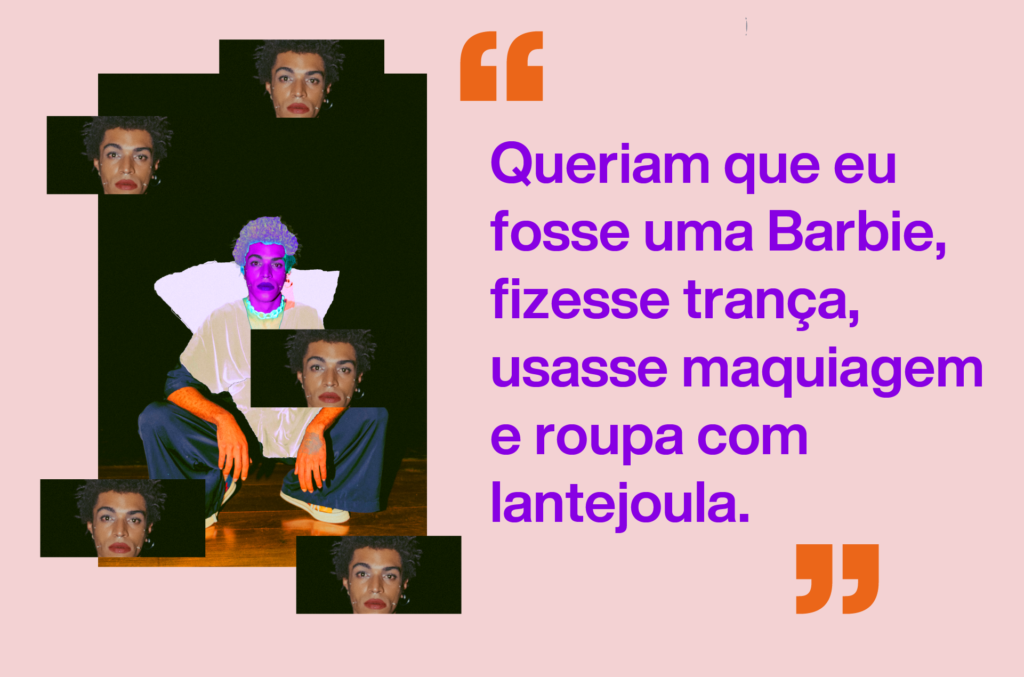
“Namastê, se fuder/ Haribô, minha coxa andante na selva de pedra escapando desse porra podre e mal desenvolvida”. Nesse verso de “Neurose”, um dos que mais saltam aos ouvidos ao longo de 2.0.2.1, Monna justifica o “Brutal” do seu nome. As linhas, que criticam a apropriação de práticas orientais por uma elite branca ocidental a fim de “acalmar a mente” para atingir um estado de espírito que considera cínico e artificial, também trazem um recado: — paz não é com ela. “ A paz é algo que quem não está na guerra sente. E eu tô em guerra a todo momento”, diz. “Só consigo pensar que é possível ter paz ou num mundo de total isenção ou num mundo de 3 bilhões de anos pra frente. Três bilhões de anos eu não duro. Isenta, eu não também fico”. Sorte a nossa. O cenário musical brasileiro ainda precisa muito do rap da pá virada de Monna Brutal nos infernizando por aqui.







